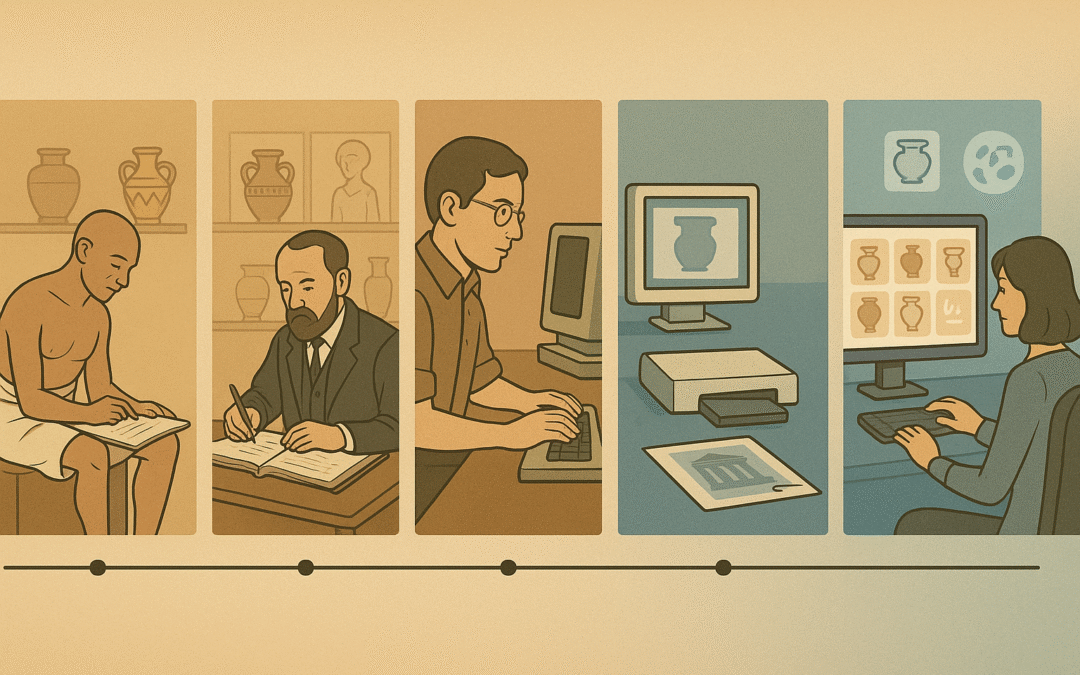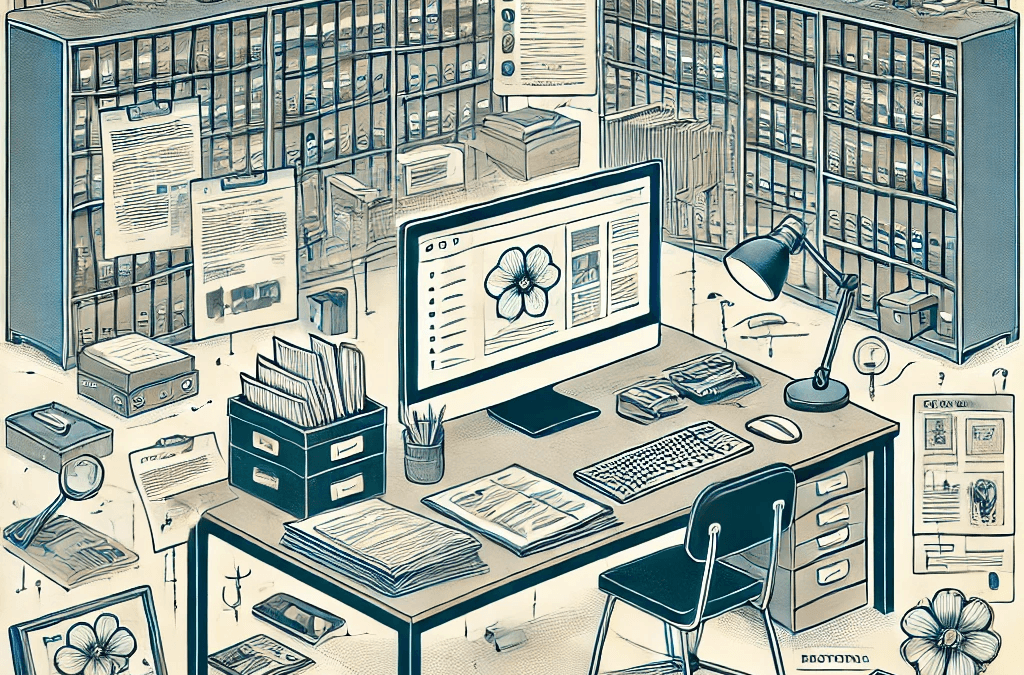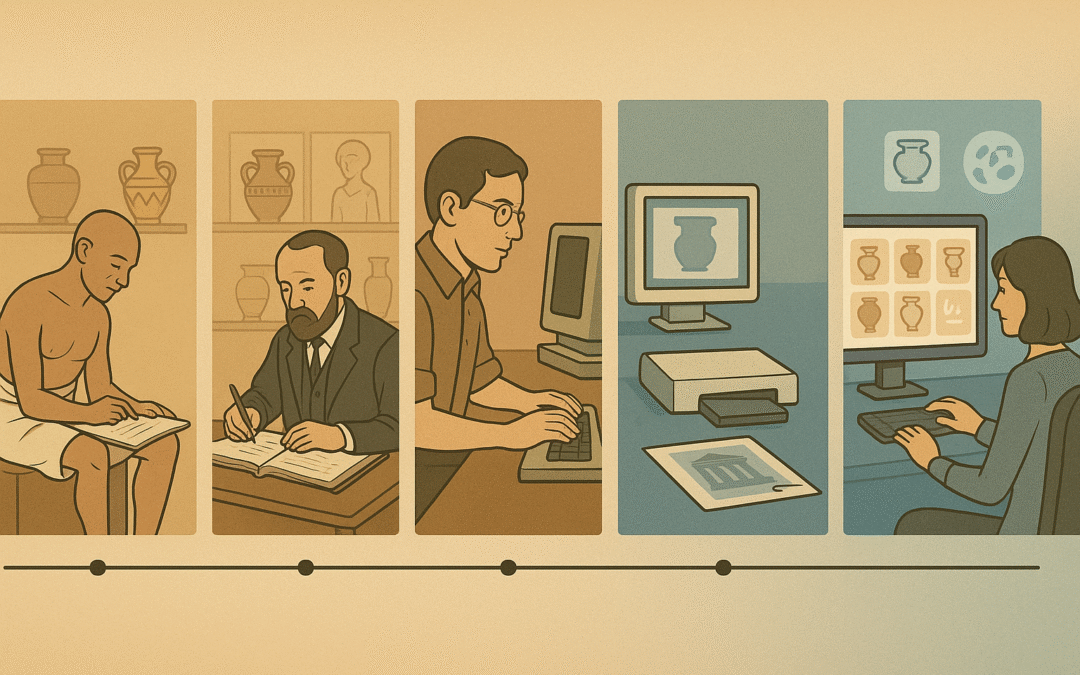
by Alexandre Matos | Jul 4, 2025 | Documentação, Museus
A documentação em museus, tal como a conhecemos hoje, passou por uma longa evolução. Desde as primeiras coleções privadas até os sofisticados sistemas digitais atuais, o modo como os museus registam e gerem as suas coleções reflete mudanças culturais, tecnológicas e institucionais.
Neste post, vamos elencar apenas alguns momentos relevantes da história da documentação em museus e entender como chegámos ao atual estado de desenvolvimento.
Para uma história da documentação completa e muito mais informada do que este breve texto, aconselho o brilhante trabalho da Maria Teresa Marín Torres (Marín Torres, Maria Teresa. Historia de la documentación museológica: la gestión de la memoria artística. Gijón: Trea, 2002.) que percorre com detalhe os momentos essenciais do desenvolvimento desta áreanos museus. Podem também ver, em acesso aberto, um excelente texto sobre os "visionários da memória artística" na revista da Faculdade de Letras também da autoria da Maria Teresa.
Começamos, obviamente, pelo início:
1. As Origens: Gabinetes de Curiosidades
A documentação em museus tem as suas raízes nos gabinetes de curiosidades dos séculos XVI e XVII. Nessa época, colecionadores aristocráticos reuniam objetos exóticos e raros como entretenimento, mas também como demonstração do status social e intlectual. A documentação era limitada a inventários rudimentares, muitas vezes escritos à mão em diários pessoais sem critério que não fosse o registo pessoal. Esses registos serviam mais para manter o controle (uma espécie de cadastro) sobre os objetos recolhidos do que para fornecer informações detalhadas sobre sua origem ou significado.
A visão da documentação nesta altura concentrava-se em certificar a posse (ainda que pudesse ser duvidosa aos nossos olhos) e não reunir com detalhe toda a informação do contexto original do objeto. A motivação da recolha prendia-se mais com o belo e o exótico do que com a procura de conhecimento sobre o que os objetos ou espécies representavam.
2. O Surgimento dos Museus Públicos
Com a criação dos primeiros museus públicos no século XVIII, como o Museu Britânico (fundado em 1753), surgiu a necessidade de catalogar as coleções de forma mais sistemática. Inventários detalhados começaram a ser feitos, incluindo descrições básicas e informações sobre a proveniência das peças.
Nesta altura começaram a ser criados os primeiros sistemas de classificação e taxonomias para classificação de espécies que depois tiveram desenvolvimentos para as áreas da arte, arqueologia, etnologia, etc. O mais conhecido destes sistemas de classificação é o sistema lineano ou Sistema de Lineu para a classificação do mundo natural que fixou a divisão entre classes, ordens, géneros e espécies para a classificação das plantas criado pelo naturalista sueco Carl Nilsson Linnæus (1707 - 1778). Em Portugal um dos grandes disseminadores deste sistema, correspondente de Linnæus, foi Domenico Vandelli, lente da Universidade de Coimbra, e promotor do sistema no meio académico português.
No entanto, a normalização como hoje a conhecemos ainda era incipiente.
3. A Era da Catalogação Sistemática
No século XIX, com o crescimento exponencial das coleções e a profissionalização do campo museológico, surgiu a necessidade de uma catalogação mais organizada. Museus como o Louvre e o Smithsonian começaram a usar fichas catalográficas detalhadas, com informações sobre:
• Descrição física e técnica do objeto
• Datação e origem
• Classificação por categoria (arte, história natural, arqueologia, etc.)
Foi nesta época que o conceito de “número de inventário” foi consolidado, atribuindo a cada peça um código único para identificação inequívoca dentro do sistema de informação do museu. Sobre o número de inventário, podem consultar aqui no Mouseion, diversos textos e um episódio do "Conversas de Muzé" que refletem sobre o mesmo e sobre a sua evolução. No entanto, é importante perceber que a sua criação foi crucial para o desenvolvimento normativo na documentação das coleções.
Desde então, a discussão sobre normalização cresceu e foram criadas as primeiras normas, ainda que não globais, das quais encontramos ainda testemunho nas antigas fichas de inventário ou catalográficas que os museus detêm (uma nota para este que vos fala: escrever um post sobre a coleção de fichas de inventário que fui reunindo ao longo dos anos). Um longo período decorre até que chegamos à segunda metade do século XX.
4. O Impacto da Tecnologia: Primeiros Computadores
A partir da década de 1960, os museus começaram a explorar a utilização de computadores para a gestão de coleções. Um dos primeiros exemplos foi o da Museum Computer Network (MCN) nos EUA, que procurou normalizar as práticas de documentação e criar uma base de dados num sistema centralizado que serviria um conjunto de museus de Nova Iorque, que se juntaram para obter o financiamento necessário na altura para um computador (um mainframe, em boa verdade) com a capacidade de processamento necessária para o efeito. Esta mudança permitiu:
• Acesso mais rápido às informações das coleções;
• Maior segurança dos registros;
• Possibilidades de pesquisa mais avançadas.
Desde então, o desenvolvimento tecnológico, a massificação dos computadores e o crescimento da utilização de redes de intercâmbio de informação, empurrou os museus e os seus profissionais para uma vertiginosa e acelerada procura de soluções para a construção de um sistema de informação digital que responda eficientemente às solicitações internas e externas de infromação sobre o património guardado nestas instituições.
5. A Revolução Digital e a Documentação Online
O desenvolvimento tecnológico, nomeadamente com a criação e massificação da utilização da Internet, na década de 90, permitiu a disponibilização das coleções online, ampliando dessa forma a acessibilidade por parte do público e da comunidade académica. Nesta altura a pressão para a criação de sistemas normalizados, ou seja, para a criação de normas documentais dos museus, atingiu o ponto de ebulição.
Instituições como o CIDOC, a MDA (agora Collections Trust), a fundação Getty, entre outras, assumem nesta altura um papel fundamental na criação de normas como as Categorias de Informação do CIDOC, o CIDOC CRM (Conceptual Reference Model), a LIDO, a Spectrum, a CDWA (Categories for the Description of Works of Art), a Object ID, entre outras foram sendo criadas e dessiminadas, constituíndo um corpo normativo que tem vindo a ser consolidado no universo dos museus e que tem influenciado o desenvolvimento de normas no sector das instituições de memória.
Com base nesse desenvolvimento e no aparecimento de diversas aplicações de pesquisa nos museus, verificou-se também o desenvolvimento de plataformas digitais como o Europeana e o Google Arts & Culture permitiram que as instituições compartilhassem as suas coleções globalmente através de repositórios que reúnem no mesmo local metadados e objectos digitais de um conjunto cada vez maior de instituições.
Além destas plataformas a documentação das coleções através de sistemas digitais tem constituído um enorme apoio para o trabalho interno nos museus. Catalogação mais eficiente, implementação de procedimentos normalizados, extração de relatórios costumizados, elaboração de estatísticas, gestão de movimentos, de reservas, etc. são algumas das áreas onde a implementação de sistemas digitais constituiu uma enorme revolução para a gestão e preservação das coleções e da informação sobre as mesmas.
6. Tendências Atuais e Futuro da Documentação
Hoje, os museus utilizam sofisticados Sistemas de Gestão de Coleções (CMS), que permitem:
• Integração de dados multimédia (imagens de alta resolução, vídeos, modelos 3D)
• Conexão com redes sociais e plataformas interativas
• Utilização de inteligência artificial para catalogação e pesquisa
Além disso, novas abordagens, como a documentação colaborativa e a inclusão de narrativas comunitárias, estão a transformar a forma como registamos o património cultural.
Conclusão
A história da documentação em museus é um reflexo direto da evolução cultural e tecnológica da humanidade. Ao longo dos séculos, passámos de inventários manuscritos para bases de dados digitais interligadas, e o futuro promete ainda mais inovação com a utilização de tecnologias emergentes como blockchain e realidade aumentada.
No próximo post, vamos explorar os desafios atuais na documentação em museus, incluindo a digitalização de acervos antigos e a preservação de dados digitais.
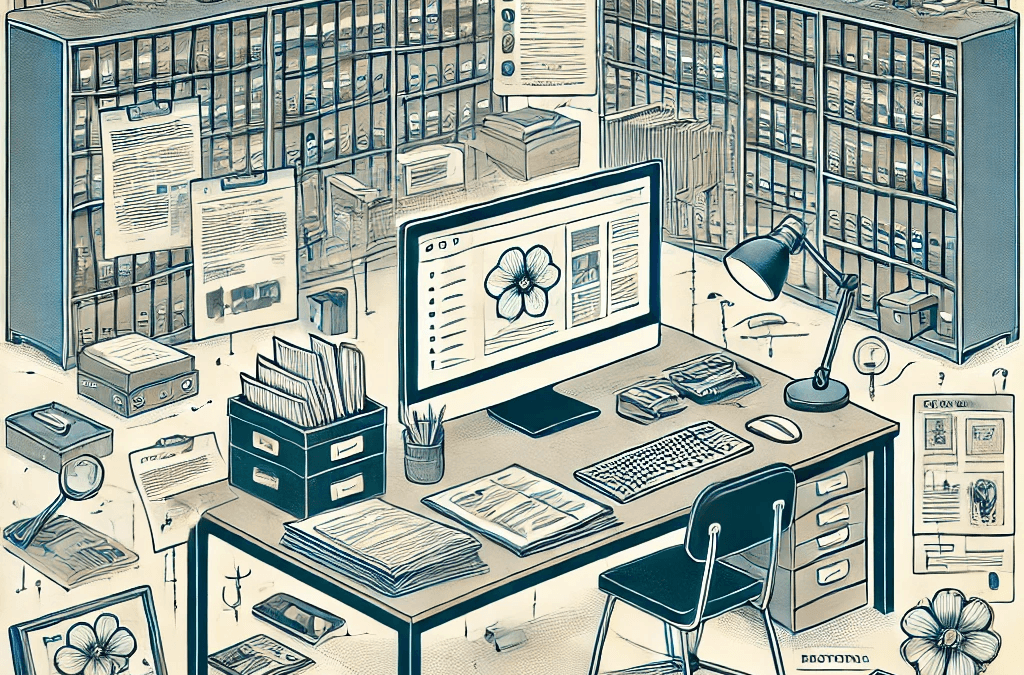
by Alexandre Matos | Jan 30, 2025 | Documentação, Museus
O prometido é devido, já lha dizia o grande Rui Veloso na canção. Ora assim sendo, aqui vai o segundo post desta nova vida do Mouseion. Desta feitasobre os diferentes tipos de documentação que devemos encontrar nos museus sobre as suas coleções.
A documentação em museus é um processo abrangente e multifacetado que vai muito além do simples inventário ou cadastro de objetos. Para garantir a gestão eficiente das coleções, os museus utilizam diversos tipos de documentação. No post desta semana, exploraremos os principais tipos de documentação e como eles se complementam.
Inventário e/ou cadastro
Não há como começar por outro tipo de documentação. É uma lista exaustiva de todos, repito, todos os objetos que estão à guarda do museus em determinado momento. Desde que haja uma responsabilidade legal sobre determinado objeto, o museu terá que saber dar resposta a questões muito simples que devem fazer parte de qualquer inventário ou cadastro (o nome é indiferente e podem escolher o que melhor vos aprouver). As questões a que deve saber responder com este tipo de documentação são:
O que é? Onde está? Como é? Como está? De quem é?
Para o fazer o museu precisa de ter uma lista (um excel desta vida, senhores) com informação do número de identificação do objeto (número de inventário, número de cadastro, número de entrada, etc.), informação sobre a localização do objeto atualizada e credível, informação sobre as suas características fisícas (dimensões, materiais, informação intrínseca ao objeto, como marcas específicas e importantes para a sua identificação), informação sobre o estado de conservação e informação sobre a instituição que detém a propriedade do mesmo.
Ajuda imenso, claro está, ter o número de inventário no excel, mas não esquecer de o marcar no objeto, ok? E já agora, uma fotografia. Hoje em dia são baratas, simples de usar e como o código-postal, são "meio caminho andado"!
Depois deste (que deve ser condição obrigatória para uma instituição se chamar museu ou poder guardar património cultural, partimos para outros patamares.
Documentação de aquisição ou incorporação
Deve ser feita quando um objeto entra na coleção de um museu, ou melhor, no processo de entrada de um objeto num museu. Sempre. No entanto, e como bem sabemos, há museus que têm uma enorme lista de pendências para resolver sobre a documentação de incorporação das coleções existentes e por isso é necessário criar procedimentos para o que entra de novo e procedimentos e planos para o que já existe, mas a instituição não tem como provar a sua posse. Os procedimentos de aquisição e documentação retrospectiva podem ser encontrados na norma spectrum (ide e lede) que a versão 4 chega e está já em Português), mas é necessário procurar planear a recuperação das pendências e ter em conta que para as novas incorporações não nos esquecemos de guardar informação sobre:
• a origem do objeto (proveniência anterior)
• a data de aquisição/incorporação
• as condições de aquisição/incorporação, ou seja a descrição do tipo e incporação (compra, doação, escavação arqueológica, entre outros) e informação associada
• a documentação legal, como contratos ou termos de doação
Provar a posse das suas coleções é quase tão importante como o inventário, em termos de documentação! Não existindo informação sobre a incorporação das coleções, o museu sujeita-se a ter pedidos de herdeiros para devolução de objetos ou manter objetos com origem duvidosa na sua posse, para citar apenas dois exemplos.
Catalogação
A catalogação é o processo de organização da informação de uma coleção para a criação do seu catálogo. É o processo mais demorado e exigente da documentação em museus, na minha opinião. Procura combinar e organizar a informação intrínseca e extrínseca sobre cada objeto e sobre as entidades, eventos, documentos e procedimentos a ele associados. É essencial para permitir a construção de um sistema de conhecimento sobre cada coleção que possa ser utilizado para a gestão da coleção, para a criação de narrativas pelo museu, para a organização de exposições, entre muitas outras actividades museológicas.
São aqui registadas de forma detalhada informações como:
• Descrição física (tamanho, material, técnica)
• Autores e outras entidades relacionadas
• Função ou uso
• Datação e período histórico
• Local de origem
• Proveniências (as anteriores à de incorporação)
• Informação de contexto (arqueológico, produção, etc.)
• Fotografias do objeto
• Entre muitas outras informações que dependem do tipo de coleção
A catalogação implica atualização constante e, consequentemente, manutenção de histórico de informações e registos. É um instrumento fundamental para utilizar as coleções e para as colocar ao serviço dos profissinais de museus e da comunidade.
Documentação de conservação
A documentação sobre os processos de conservação (preventiva e curativa) e a informação sobre o estado de conservação das coleções é outro tipo de documentação que importa acautelar e planear cuidadosamente. Não o fazer é deixar ao acaso a manutenção e preservação do património cultural que guardamos nos nossos museus. Deve ser sempre encarada como prioritária nos planos de documentação e nas políticas ao de documentação estabelecidas pelos museus.
Um bom sistema de informação num museu tem sempre acautelada a documentação da actual condição física e funcional dos objetos e mantém um histórico de informação sobre a evolução do estado desde que um objeto é incorporado. O registo de todas as intervenções de restauro é também fundamental. Assim a documentação de conservação deve incluir:
• Condição atual do objeto (e histórico de estados)
• Intervenções de conservação realizadas (limpeza, restauro, etc.)
• Recomendações para armazenamento e exposição
Esses registros ajudam a monitorizar mudanças na condição do objeto ao longo do tempo e a tomar decisões que permitam uma eficaz gestão de riscos.
Documentação de utilização das coleções
É um tipo de documentação frequentemente inexistente e que provoca, na minha opinião, um vazio de conhecimento pouco reconhecido. A documentação de utilização das coleções diz respeito à gestão da informação gerada quando um objeto ou grupo de objetos são utilizados, por exemplo quando um objeto é utilizado numa exposição, num estudo científico, numa publicação ou num outro evento, é gerado um conjunto de informação que devemos guardar e organizar. Este tipo de documentação providência dados relativos a:
• Temas e narrativas de exposições ou outros eventos (palestras, aulas, visitas guiadas, etc.)
• Local e duração das mesmas
• Condições de iluminação e clima no espaço expositivo
• Créditos e acordos de empréstimo, no caso de exposições temporárias
• Referências bibliográficas
• Análises físicas (que podem ser destrutivas em alguns casos)
• Outras informações relacionadas com os eventos de utilização das coleções
Documentação jurídica
A documentação jurídica implica tudo aquilo que o museu deve registar e manter atualizado (incluindo aqui também a prova de posse legal de um objeto) que permita garantir que o museu esteja em conformidade com as leis e regulamentos. Este tipo de documentação cuida de registar e gerir informação sobre:
• Títulos de propriedade
• Direitos de autor, de propriedade intelectual, de imagem, etc.
• Acordos de empréstimo e transferência
• Certificados de exportação/importação de peças
Documentação digital
Todas anteriores tipologias de documentação podem ser digitais (eu diria devem ser ou usar ferramentas digitais), mas atualmente temos também um conjunto de informação digital que os museus devem gerir com regras específicas. A própria base de dados ou o sistema de gestão de informação digital usado deve ser documentado (facilita de sobremaneira atualizações ou migrações), mas objetos digitais como fotografias ou digitalizações dos objetos, representações 3D dos mesmos, obras de arte digitais, entre outros exemplos são alguns dos desafios que enfrentamos atualmente.
Além disso, documentar em formato digital tem um conjunto de vantagens que os sistemas analógicos não permitem.
A documentação digital permite e possibilita:
• Armazenar grandes volumes de dados
• Documentar objetos digitais
• Acesso remoto às informações
• Integração com plataformas online, permitindo que o público explore as coleções
A importância da integração
Os diferentes tipos de documentação não devem existir isoladamente. Sao engrenagens de um sistema complexo, mas fundamental para o museu atual. Formam aquilo que é um sistema de gestão e informação de coleções. Um sistema integrado que permite aos museus gerir as suas coleções, o seu arquivo e o seu centro de documentação de forma eficiente, transparente e acessível.
A documentação é o instrumento da verdade. Se os museus são das instituições mais confiáveis relativamente à informação e conhecimento que produzem e divulgam, em muito se deve a ela e aos sistemas de informação que os museus tem vindo a construir ao longo da sua história.
No próximo post abordarei a história da documentação em museus e como ela evoluiu ao longo do tempo.
Continue a acompanhar o Mouseion para mergulhar ainda mais no fascinante universo da documentação museológica.